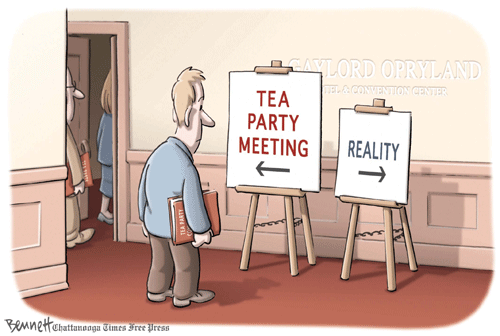Na Gazeta do Povo de segunda-feira
Mitt Romney tem um dom com as palavras – especialmente as autodestrutivas. Na sexta-feira ele fez mais uma das suas, ao dizer à Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, na sigla em inglês) que ele era um “governador severamente conservador”.
Como apontado por Molly Ball do jornal The Atlantic, Romney “descreveu o conservadorismo como se fosse uma doença”. Realmente. Mark Liberman, professor de linguística da Universidade da Pensilvânia, forneceu uma lista de palavras que comumente acompanham o advérbio “severamente”; as cinco mais, em ordem de frequência de uso, eram “incapacitado”, “deprimido”, “doente”, “limitado” e “ferido”.
Isso claramente não era o que Romney queria dizer. No entanto, se você for conferir a corrida para nomeação presidencial republicana, provavelmente acabará se perguntando se foi ou não um ato falho. Pois parece claro que algo está muito errado no conservadorismo americano moderno.
Começando com Rick Santorum, que, de acordo com o instituto Public Policy Polling, é definitivamente o favorito, no momento, entre os eleitores republicanos das primárias, estando 15 pontos na frente de Romney. Qualquer um com uma conexão à internet está ciente de que Santorum é melhor conhecido por seus comentários de 2003 sobre homossexualidade, incesto e bestialidade. Mas há muito mais coisas estranhas nele.
No ano passado, por exemplo, Santorum fez questão de defender as Cruzadas medievais contra “a esquerda americana que odeia a Cristandade”. Deixando de lado as questões históricas (porque o que é um massacrezinho ou outro de infieis ou judeus?), o que faz esse assunto numa campanha política do século 21?
E a questão não é só sexo e religião: ele também declarou que a mudança climática é um engano, parte de um “esquema belamente planejado” provindo da “esquerda” para fornecer “desculpas para o governo controlar mais a sua vida”. Pode-se dizer que esse tipo de teoria da conspiração não está limitado a Santorum, mas essa é a questão: o chapéu de papel alumínio dos paranóicos caricatos se tornou já um acessório comum, quando não obrigatório, do partido republicano.
E ainda tem Ron Paul, que veio em segundo lugar nos caucus do Maine apesar da publicidade gerada por assuntos como os boletins racistas (e conspiratórios) publicados sob seu nome nos anos de 1990 e suas declarações sobre tanto a Guerra Civil quanto a Abolição da Escravidão terem sido erros. Fica claro que um amplo segmento da base de seu partido se sente confortável com os pontos de vista que se esperaria que viessem de uma direita mais extrema.
Por fim, há Romney, que provavelmente receberá a nomeação, apesar de seu fracasso evidente em conseguir estabelecer uma conexão emocional com, bem, qualquer um que fosse. A verdade, lógico, é que ele não era um governador “severamente conservador”. A grande realização que carrega sua assinatura foi uma reforma do sistema de saúde que é, em todos os aspectos importantes, idêntico à reforma nacional que foi assinada pelo presidente Obama quatro anos depois. E, num mundo político racional, sua campanha se centraria sobre essa realização.
Mas Romney está atrás de uma nomeação presidencial republicana, e, quaisquer que realmente possam ser suas crenças pessoais – se, de fato, ele acredita em qualquer outra coisa fora que ele deva ser presidente – ele precisa ganhar os eleitores das primárias, que são mesmo severamente conservadores, tanto nos sentidos intencional e não intencional da palavra.
Sendo assim, ele não pode depender de seu histórico no cargo. E ele também não estava se esforçando muito para basear a campanha em sua carreira nos negócios, mesmo antes de as pessoas começarem a fazer perguntas difíceis (e muito apropriadas) sobre a natureza de sua carreira.
Em vez disso, seus discursos políticos dependem quase que inteiramente das fantasias e delírios fabricados para apelar às ilusões da base eleitoral conservadora. Não, o presidente Obama não é alguém que “começou seu mandato pedindo desculpas pela América”, como declarou Romney, novamente, na semana passada. Mas esta “falsidade de quatro Pinóquios”, como põe o Washington Post Fact Checker [que mede o nível de verdade de declarações de políticos, graduando-as entre um e quatro “Pinóquios”], está no cerne da campanha Romney.
Como é que o conservadorismo americano conseguiu acabar se tornando tão distante e contrário aos fatos e à racionalidade? Pois ele não foi sempre assim. Afinal, a reforma do sistema de saúde que Romney quer que esqueçamos seguiu uma planta desenhada originalmente pelo instituto conservador The Heritage Foundation!
Minha resposta breve é que o jogo de vigarices que há muito se estende entre os conservadores econômicos – e os patrocinadores ricos a quem eles servem – finalmente desandou. Durante décadas o Partido Republicano tem ganho eleições apelando para divisões sociais e raciais para, depois, após cada vitória, recorrer ao desregulamento e cortes tributários para os ricos – um processo que atingiu seu ápice quando George W. Bush ganhou a reeleição fazendo pose de defensor da América contra terroristas gays casados, anunciando depois que tinha um mandato para privatizar a Previdência Social.
Ao longo do tempo, no entanto, esta estratégia criou uma base eleitoral que realmente passou a acreditar em toda essa fanfarronada – e agora a elite do partido perdeu o controle. A questão é que a situação lastimável do Partido Republicano de hoje – e tem alguém que não a considere lastimável? – não é nenhum acidente. Os conservadores econômicos fizeram um jogo cínico e agora estão enfrentando os efeitos adversos, um partido que sofre de conservadorismo “severo” no pior dos sentidos. E a doença pode levar muitos anos para ser curada.
Tradução: Adriano Scandolara